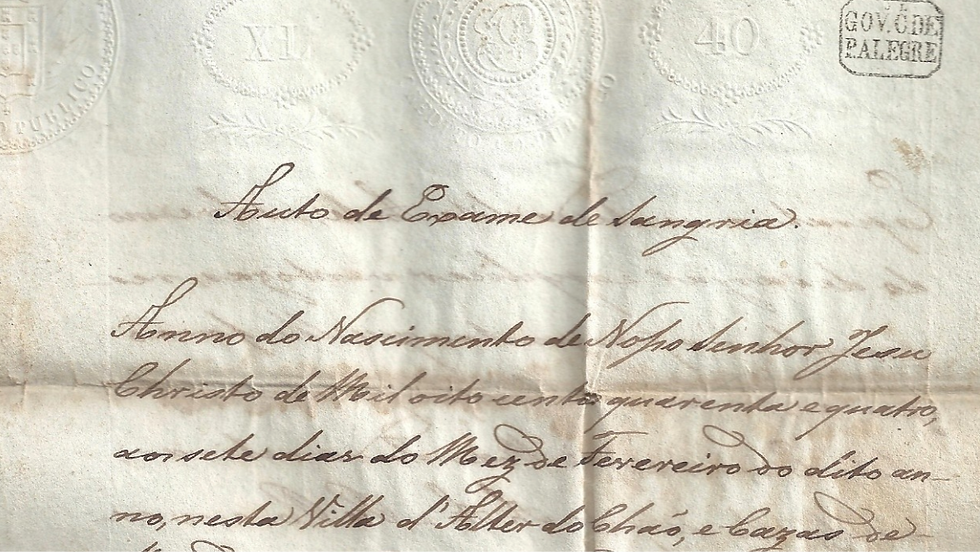Olhar em profundidade: A fotografia estereoscópica na viragem para o século XX
- ccconservacao
- 21 de jun.
- 6 min de leitura
Há imagens que nos tocam pela nitidez com que capturam o mundo. Outras, talvez mais raras, impressionam-nos por aquilo que acrescentam à realidade – uma espécie de presença que se sente mais do que se vê. Foi essa sensação, meio encantamento meio vertigem, que tive ao olhar pela primeira vez a imagem que chamo do "mundo de Jane Austen” dentro minha câmara/visor Glyphoscope. À minha frente, um pequeno vidro com duas imagens quase idênticas ganhava subitamente volume, recorte, distância. Era como espreitar para dentro de uma cena passada, não como quem a vê ao longe, mas como quem a habita.

Gosto de mostrar as minhas câmaras e os meus visores estereoscópicos a novatos. Tento explicar o que necessitam fazer para ver em 3D, mas não é raro dizerem-me que sim que entendem e depois não estão realmente a entender. Consegues ver o 3D? Sim. Estou a ver. Não me parece que estejas a ver porque não estás a reagir como normalmente acontece. [penso para mim – normalmente ouço um “ah”]. Sim vejo bem as imagens nítidas. Tens de encontrar o ponto certo, experimenta afastar ou aproximar.
Ah!
[faz-me sorrir. Agora sim]
Adoro esperar por este ah! E ver a reação das primeiras vezes. E agora vê contraluz!
Estas vivências, ao mesmo tempo técnicas e sensoriais, são o ponto de partida deste texto: uma viagem rápida ao mundo da fotografia estereoscópica na viragem para o século XX, atravessada por histórias, objetos e imagens que me são próximas – e que partilho agora com vocês.
A ilusão estereoscópica: ver com dois olhos
A estereoscopia baseia-se num princípio simples: os nossos olhos, ligeiramente afastados entre si, percebem o mundo a partir de dois pontos de vista diferentes. O cérebro, ao processar estas imagens, constrói uma representação tridimensional da realidade. A este fenómeno dá-se o nome de visão binocular.
No século XIX, este princípio foi transformado numa tecnologia de imagem. Após alguns anos e vários cientistas as explorar os princípios da estereoscopia, em 1838, o cientista Charles Wheatstone apresentou publicamente o primeiro estereoscópio, um aparelho que usava espelhos para apresentar imagens ligeiramente deslocadas a cada olho. Poucos anos depois, David Brewster desenvolveu uma versão portátil, mais compacta e prática, que viria a popularizar-se por toda a Europa e América. Nascia assim a estereoscopia moderna: uma forma de olhar o mundo com mais profundidade – no sentido prático e figurado.

Século XIX: a idade de ouro da estereoscopia
Durante a segunda metade do século XIX, a estereoscopia conheceu um verdadeiro apogeu. Aparelhos e imagens circularam por salões aristocráticos, esplanadas, exposições universais e salas de estar burguesas. Estavam por todo o lado. As estereoscopias em papel, montadas em cartões, tornaram-se acessíveis a um público cada vez mais vasto. Era possível viajar até Roma, escalar os Alpes, visitar monumentos exóticos ou observar fenómenos científicos – tudo sem sair do lugar. O visor estereoscópico tornou-se o intermediário entre as pessoas e o mundo, com a vantagem de provocar uma experiência quase tátil da imagem.
A estereoscopia cruzava então vários mundos: o da ciência, da pedagogia, da arte, do entretenimento. Estava associada à descoberta, mas também ao colecionismo e à intimidade. Podia ser um objeto de estudo ou de encantamento. Muitas vezes, era ambas as coisas.
A fotografia estereoscópica na viragem do século
À medida que o século XIX dava lugar ao século XX, a fotografia estereoscópica acompanhava as transformações tecnológicas e culturais da modernidade. O aperfeiçoamento dos materiais fotossensíveis, o aumento da portabilidade das câmaras e a sofisticação dos dispositivos de visualização permitiram um uso mais autónomo e pessoal da estereoscopia.

É neste contexto que surge a Glyphoscope Jules Richard, lançada em 1904 e produzida durante décadas com enorme sucesso. Esta câmara compacta foi concebida para o uso amador, mas com resultados de grande qualidade. Utilizava placas de vidro no formato 45x107 mm, que captavam duas imagens em simultâneo, ligeiramente deslocadas. Um dos seus aspetos mais interessantes é que funcionava também como visor: o próprio utilizador podia ver as suas imagens depois de as revelar, num único aparelho. A experiência era completa – ver e fazer, no mesmo objeto.
No virar do século, a estereoscopia continuava a alimentar o desejo de ver mais, melhor, de mais perto. Era uma tecnologia que não se limitava a reproduzir o mundo: reorganizava-o em três dimensões, criava janelas para dentro de outras realidades.
Glyphoscope e visor estereoscópico universal
Dois modos de ver
A minha Glyphoscope é do Modelo 2, semelhante, mas um pouco mais leve que a original, Modelo 1, e é um desses dispositivos que nos ligam ao passado de forma quase direta. É uma máquina que embora seja pequena ainda assim é densa, presencial, com a solidez de ter sido feita para durar. Ao mesmo tempo, carrega um certo romantismo mecânico: a ideia de que ver bem exige tempo, esforço, escolha. Ao colocá-la diante dos olhos, a sensação é a de espreitar para um mundo cuidadosamente moldado.
Já o visor estereoscópico universal, que utilizo é “The Perfectscope”, do fabricante H. C. White, também de 1904. Serve para ver estereoscopias em papel e tem um carácter mais aberto. Aceita alguma variação nos formatos das estereoscopias, é intuitivo e democrático. Foi concebido para circular, para ensinar, para encantar. Os cartões com imagens coladas lado a lado deslizam para o suporte, e o mundo ganha volume. Algumas das estereoscopias que tenho são pequenas cenas quotidianas, retratos, vistas urbanas. Outras são registos de viagens, paisagens naturais, interiores arquitetónicos. Em todas há uma profundidade que desafia o olhar rápido a que nos habituámos.

Duas materialidades
As imagens que vejo através dos meus dispositivos dividem-se entre dois suportes: papel e vidro. Esta diferença não é apenas técnica; é também uma variação sensorial.
As estereoscopias em papel, mais comuns e acessíveis, oferecem uma sensação de proximidade e leveza. São fáceis de manusear, partilhar, arquivar. Têm o charme das imagens populares: ligeiramente gastas, às vezes desbotadas, mas cheias de história.
As estereoscopias em vidro, por outro lado, introduzem uma dimensão quase mágica. As que possuo são em Agfachrome, rival das mais conhecidas Autochrome. São placas de vidro que vistas ao microscópio são compostas de muitos pontinhos de cor – um tipo de processo positivo direto, como os slides/diapositivos, se é que isso ainda explica alguma coisa às gerações mais novas. Não há, nestes casos, o par Positivo/Negativo. A imagem final foi criada na placa que entrou na câmara e não no laboratório.

Com cores suaves, por vezes ligeiramente irreais, mas com uma vibração própria. O vidro é para ser visto a contra-luz e permite uma nitidez e luminosidade notáveis. Ao observar uma estereoscopia em vidro pela Glyphoscope, é como se a imagem se abrisse numa pequena caixa de luz. A presença é intensa: não é só o que se vê, é como se vê.
Olhar, tocar, guardar: a minha relação com estas imagens
Quando comecei a explorar a estereoscopia, não imaginava que esta tecnologia do século XIX pudesse ser tão atual. O que me atraiu, talvez, foi esse gesto de desaceleração: parar, escolher uma imagem, olhar com atenção. E, sobretudo, ver com profundidade. Hoje, quando uso os meus equipamentos – o visor universal ou a Glyphoscope – não o faço por nostalgia, mas por desejo de compreender outras formas de olhar.
As imagens que tenho – sejam compradas, encontradas ou feitas por mim – são uma pequenina coleção de mundos suspensos. Há nelas uma fragilidade material (o papel que amarelece, o vidro que pode partir-se) e uma força visual que resiste ao tempo. Cada vez que olho para uma estereoscopia, sei que estou a repetir um gesto antigo: o de alguém que, com dois olhos, quis ver mais fundo.
E tento imaginar qual seria a sensação na época. Quando não havia à disposição imagens sem fim, acessíveis num telemóvel guardado no bolso. O “ah!” estaria lá certamente, mas não seria o mesmo de agora, ou seria?

A persistência do espanto
A 21 de Junho, celebra-se o Dia da Estereoscopia. A data coincide com o solstício de verão no hemisfério norte – um momento simbólico, de máxima luz e profundidade solar. É uma celebração informal, mas significativa, que reúne entusiastas, colecionadores, investigadores e curiosos em torno de uma técnica que continua a surpreender.
A estereoscopia sobreviveu a muitas transformações: o advento do cinema, a televisão, a imagem digital, a realidade virtual. Continua a ser um meio aparentemente simples, mas que desafia a nossa perceção e a nossa atenção. Convida-nos a ver com tempo, com detalhe, com os dois olhos – e com a mente aberta.
Neste dia, partilhar estas imagens e vivências é também uma forma de manter vivo um património visual e táctil. Um património feito de objetos, sim, mas sobretudo de olhares. Porque, no fundo, ver em estereoscopia é um exercício de presença: do corpo que vê, do tempo que passou, da imagem que se revela em profundidade.